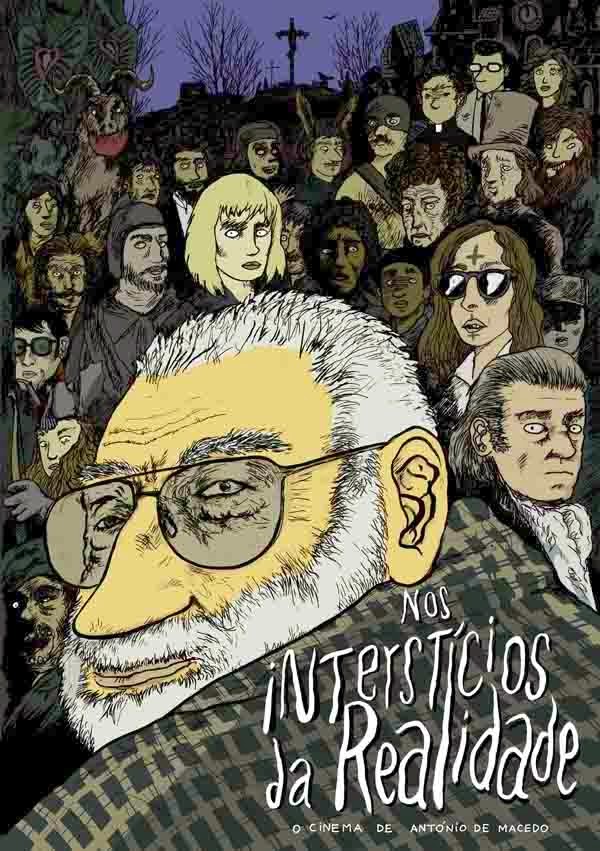Um desacerto reiterado
em reconstituições de épocas pretéritas é pensar-se sobre o passado em moldes
diorâmicos, como se cada período estivesse constituído sem surpresas para
turistas temporais verem, tal qual uma sucessão esfuziante de carrosséis
temáticos numa estranha feira popular do tempo: entre outros, o carrossel do
ano 2000, o do ano 1950, mais o do ano 3000 a. C. Nem damos conta do
anacronismo de que em cada uma dessas reorganizações artificiais do passado
todos os elementos escolhidos para efeito de representação cénica pertencem,
sem variações, aos próprios anos que estão a ser reproduzidos por esses cenários.
Isto significa que no carrossel do ano 1950, por exemplo, tudo aquilo que pode
ser observado pelo visitante temporal pertence a esse ano em específico: os
modelos dos automóveis; o estilo do vestuário dos indivíduos, assim como os
seus cortes de cabelo; as revistas, os jornais e os livros; todas as inovações
tecnológicas. É uma escolha que tem como objectivo montar os dioramas com o
maior grau possível de autenticidade, mas a nossa visão do passado é cega
diante do facto de que o ano 1950 foi, certamente, muito mais parecido com o
ano 1949 ou com o ano 1948 do que aquilo que imaginamos. Com efeito, o ano 1950
terá sido muito mais parecido com o ano 1940 ou até com o ano 1935, porque
todas as inovações tecno-culturais criadas num determinado ano (modelos de
automóveis e de vestuário, certos tipos de electrodomésticos e restantes tropos
culturais, enuncie-se) apenas se popularizam nos anos seguintes à sua criação;
nesse feitio, a visão especulativa que criámos no carrossel dioramático de 1950
terá tudo a ver, na verdade, com o ano histórico de 1940.
É graças a esta cegueira sobre o passado que somos capazes de ver alguns filmes
de recomposição histórica e não dar conta dos múltiplos anacronismos que nos
estão a ser apresentados - ou, no limite, os mais imperceptíveis, porque se
detectamos sem dificuldade um relógio no pulso de um figurante que faz de
legionário de um exército de Júlio César não somos capazes de perceber que
aquele modelo de automóvel no qual acabou de entrar o nosso protagonista de um
filme policial cujo enredo se passa em 1950 somente se difundiu em meados do
ano seguinte, independentemente dessa máquina ter sido, efectivamente, criada
em 1950. Nesse sentido, um bom filme policial com acção decorrida no ano de 1950
apresentaria um panorama cosmopolita com pouquíssimos elementos atribuíveis a
esse ano, porque a vida de todos os dias pertence à média, enquanto que as
inovações pertencem aos extremos. Importa reter a universalidade do conceito de
que entre criação e implementação ou entre criação e difusão existe sempre um
intervalo variável de tempo. Ora, é neste inconstante interstício, entre a
constituição de um protótipo, que, aqui, quase assume um papel similar à forma
ideal neoplatónica, e a sua difusão pelo público na sociedade, que reside o
ponto cego das nossas previsões sobre o futuro e, por atracção, o ponto cego da
ficção científica.
A autêntica ficção
científica está preocupada em interrogar os efeitos que a ciência e a tecnologia
imprimem sobre a sociedade e, por essa via, está pouquíssimo interessada nos
afectos e nas convenções mais mundanas que são o combustível de outras famílias
de narrativas, excepto quando esses afectos e convenções são ferramentas ao
serviço do desiderato citado inicialmente. É por essa razão que a maioria dos
livros e dos filmes que o público entende como sendo de ficção científica não o
são: a verdadeira ficção científica está, desde há umas décadas, relativamente
ausente do centro. Uma das razões para que esse afastamento tenha ocorrido será,
sem dúvida, a incapacidade que a ficção científica de meados do século XX teve
em prever, de facto, o futuro – ou seja, o nosso presente. Essa imperícia de presciência
resulta, em exclusivo, do interstício inconstante que descrevi no final do
parágrafo anterior. Os escritores de ficção científica têm sempre uma
inclinação imediata para sobrecarregar o futuro com tecnologias novas, com múltiplos
gadgets e criar uma atmosfera de neofilia omnipresente, mas, com efeito, o
tempo erode as tecnologias e as inovações que vão sendo criadas e lançadas à
experimentação. Só me recordo de duas grandes novas tecnologias, inventadas nas
últimas décadas, que não só permanecem connosco como mudaram inexoravelmente o
tecido social e o modo como o mundo se organizava: a bomba nuclear e a Internet
– e se ainda é discutível se a ficção científica previu o aparecimento da primeira,
menos discutível é a constatação de que não foi capaz de prever o surgimento da
segunda.
O nosso presente – o futuro
da ficção científica de meados do século XX – é muito mais semelhante aos
finais do século XIX, com os conflitos dos Estados Unidos e do Próximo Oriente
a espelhar os problemas que a Inglaterra teve com o Afeganistão, com a
descoberta efectiva do bosão teorizado por Peter Higgs a mimetizar o impacto
que teve a descoberta de Albert Michelson e Edward Morley de que o Éter não
existia e com os movimentos alternativos do pseudoconhecimento e das teorias
das conspirações a irem ao encontro dos efeitos provocados pelo renascimento
ocultista da segunda metade de oitocentos. Excepto a bomba nuclear e a Internet
todas as tecnologias ao nosso dispor são aperfeiçoamentos sucessivos de
tecnologias que foram sobrevivendo à calandragem das eras.
Dizia Simónides de Ceos
que «o tempo tem dentes afiados que
destroem tudo». Para se prever o futuro é preciso olhar para o presente e perceber
quais os elementos que, entretanto, irão desaparecer. Não me escapa a
prematuridade dos prenúncios da morte do livro, face ao advento do eReader: de um ponto de vista de
selecção natural, o livro está connosco para durar, enquanto que os indicadores
de vendas demonstram que o entusiasmo pelos eReaders
está a extinguir-se. A neofilia esgota-se a si mesma, como é evidente.